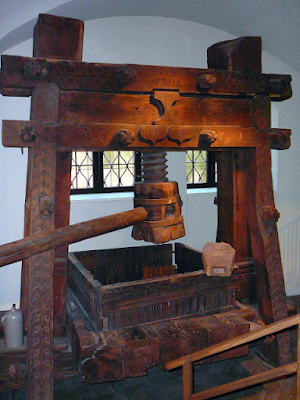Qualquer que seja o próximo presidente do Brasil, ele terá dificuldades de negociar com o Congresso Nacional.
Professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho, constitucionalista
Na campanha eleitoral de 2018, o presidente Jair Bolsonaro (PL) vendeu uma imagem de candidato antissistema — embora fosse parlamentar, de atuação inexpressiva, havia 29 anos. Ao começar a governar, percebeu que não conseguiria manter essa postura e fez aliança com o Centrão, que deverá prosseguir em um eventual novo mandato. Por outro lado, se o ex-presidente Lula (PT) obtiver uma terceira gestão, terá uma Câmara dos Deputados e um Senado com maioria bolsonarista.
A dificuldade de negociar com o Congresso e de governar é fruto do presidencialismo, o "mais grave problema brasileiro" no âmbito institucional, segundo o advogado e professor emérito de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo Manoel Gonçalves Ferreira Filho.
"Sem dúvida, o presidencialismo foi responsável por um autoritarismo e por um poder pessoal do presidente da República, dos quais não desapareceram os traços, embora tenham se atenuado. Hoje, ele é responsável por — diga-se o mínimo — uma dificuldade na governança, ou — diga-se o máximo — uma distorção na governança", aponta o jurista.
Quando há necessidade de apoio parlamentar, essa seria uma dificuldade para o governo; no entanto, quando o caso é de interferência dos interesses de deputados, senadores e partidos na aprovação de projetos de lei, entra-se no terreno das distorções.
Para tornar o sistema brasileiro menos sujeito a crises, o constitucionalista defende a adoção do semipresidencialismo — medida apoiada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes. Em tal sistema, o presidente da República, eleito por voto direto, seria o chefe de Estado, das Forças Armadas e responsável por sancionar projetos de lei, entre outras competências. Já o chefe do governo seria o primeiro-ministro, eleito pelo Congresso, e cuidaria do dia a dia da administração do país.
"Assim, o presidente asseguraria a estabilidade das instituições — seria um poder moderador; o primeiro-ministro exerceria a governança no seu importante dia a dia, sob o controle do Parlamento. Este poderia afastá-lo se governasse mal ou irregularmente, sem necessidade de impeachment, desde que em seu lugar apoiasse um sucessor, com apoio para servir ao bem comum", explica Ferreira Filho.
Até porque o processo de impeachment "sempre tem sequelas políticas graves", e paira sobre ele a pecha de "golpe", avalia. A Lei do Impeachment (Lei 1.079/1950), de acordo com o professor, está desatualizada tanto quanto à definição dos crimes de responsabilidade quanto ao procedimento. Tanto que uma comissão de juristas, sob a presidência do ministro do STF Ricardo Lewandowski, proporá a atualização da norma. Dessa reforma, Ferreira Filho espera que, no mínimo, se suprima a possibilidade de o presidente da Câmara reter por tempo indeterminado a apreciação da denúncia e que, em caso de indeferimento, seja cabível recurso para o Plenário.
Integrante do panteão dos constitucionalistas brasileiros, Ferreira Filho foi professor de inúmeros profissionais do Direito que viraram referência em suas áreas, como os ministros do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Dias Toffoli.
Tem no currículo também passagens pela política. Na virada dos anos 1960 para os 1970, foi secretário-geral do Ministério da Justiça e secretário do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Posteriormente, foi vice-governador do estado de São Paulo no governo Paulo Egydio, entre 1975 e 1979, e secretário estadual da Justiça.
Leia a entrevista:
ConJur — Qual é o papel do presidencialismo nas crises políticas brasileiras?
Manoel Gonçalves Ferreira Filho — No plano das instituições políticas, o mais grave problema brasileiro é, sem dúvida, o do sistema de governo. Ou seja, o presidencialismo que a República adotou.
Sem dúvida, ele foi responsável por um autoritarismo e por um poder pessoal do presidente da República, dos quais não desapareceram os traços, embora tenham se atenuado. Hoje, ele é responsável por — diga-se o mínimo — uma dificuldade na governança — ou diga-se o máximo — uma distorção na governança.
A primeira deriva de que, em um Estado Democrático de Direito, a governança do presidente necessariamente presume um apoio parlamentar, pois ela somente pode ser exercida de acordo com a lei. A ambiciosa meta do Estado de Bem-Estar reclama uma atuação positiva no plano econômico e social que não pode ocorrer senão se autorizada pela lei (nas democracias, evidentemente). No primitivo Estado Liberal, ela devia se limitar a garantir a ordem. Esse objetivo era simplesmente realizado pela possibilidade de emprego da força, segundo admitido pela lei processual e pelo Código Penal.
A segunda deriva — simplificadamente — da necessidade de obter do Congresso a aprovação das leis que ensejem a governança para o bem-estar, na medida em que isto pretende ser feito pelo presidente. Ora, nisto interferem interesses dos membros do Congresso e de seus partidos (afora a pressão dos beneficiados ou prejudicados pelas medidas tomadas em prol do bem-estar de todos e não raramente de alguns).
A governança, portanto, presume não a separação entre o Executivo e o Legislativo, mas uma colaboração entre ambos. Isso exclui o presidencialismo puro, bem como o êxito da governança, pois o programa desta pode deixar de ser realizado, ficando a "culpa" por conta do governante. Tal colaboração, com efeito, para que ocorra ou não, depende de o presidente ter ou não maioria parlamentar que o apoie ou a obtenha como puder. Isso remete ao sistema partidário, e este, ao sistema eleitoral.
Acrescente-se que o presidencialismo enseja, pelo mandato de prazo fixo, do presidente da República a dificuldade de afastá-lo se não estiver à altura do cargo ou exercê-lo indevidamente. O único remédio para fazê-lo é o impeachment — um processo formalmente jurídico que por isso pode-se tornar tortuoso e substancialmente político, pois, o mau governante que tenha suficiente apoio parlamentar dele escapa ou se sai bem.
E isso não somente enseja crises, tanto quanto à sua necessidade, como quanto à sua efetivação, pois sempre é visto pelo lado vencido como um “golpe”.
Ademais, como observa Afonso Arinos, a eleição do presidente tende a ser um “plebiscito entre dois demagogos”, que é frequentemente vencido por quem mais promete a grupos do que se preocupa com o interesse geral.
ConJur — O parlamentarismo seria mais benéfico ao Brasil?
Ferreira Filho — O parlamentarismo, alternativa sempre apresentada pelos adversários do presidencialismo, naturalmente enseja a colaboração entre os poderes. Nele, quem exerce a governança é o primeiro-ministro e seu conselho de ministros, com o apoio da maioria parlamentar e enquanto conta com esta.
A governança, assim, está sob o imediato acompanhamento do Parlamento. O êxito ou fracasso do governo se reflete no partido ou partidos que o apoiou. A substituição do governo é simples, desde que exista maioria unida disposta a dar o poder a outro primeiro-ministro e a outro ministério.
Aqui se há de considerar o sistema de partidos. Quando existe um bipartidarismo, o partido majoritário faz o governo e o apoio necessário à governança. Mas esse partido deve estar solidamente unido — e o atual quadro inglês mostra que nem sempre está. Se há multipartidarismo, necessariamente o governo dependerá de uma coalizão e as coalizões, segundo mostra a experiência universal, são instáveis. Desfazem-se fácil e frequentemente por motivos que vão desde a ambição dos membros dos partidos de assumirem o comando a divergências ideológicas, muitas vezes meros pretextos. Para impedi-lo, ocorrem aos mesmos artifícios de que se utilizam os governos presidencialistas sem maioria parlamentar.
Num polipartidarismo, como o brasileiro, é previsível que o governo parlamentarista seria extremamente instável, impotente e teria de negociar por todos os meios o apoio parlamentar.
Tal instabilidade, como mostra a experiência francesa da Quarta República (1946-1958), leva os gabinetes a não enfrentarem os problemas graves ou difíceis e a ficar no mais do mesmo. Ou seja, uma governança impotente e rotineira, incapaz de enfrentar os grandes problemas do desenvolvimento econômico e da ordem social. Foi isso que levou ao fim o parlamentarismo do Império, que seus opositores criticavam como o “governo do palavrório e da intriga”.
ConJur — O semipresidencialismo poderia ser um sistema que reduziria esses problemas?
Ferreira Filho — A ideia de superar esses dois sistemas que não tiveram êxito no Brasil por um que combine seus eventuais méritos e evite os seus defeitos é inspirada pelo êxito da Constituição francesa de 1958, que vigora ainda hoje. É o semipresidencialismo que proponho e que já se discute. Não há espaço para desenvolver em pormenor tal discussão, o que fiz em artigos e livros.
É um sistema que separa a chefia do Estado — incumbida dos interesses permanentes da nação, atribuída democraticamente ao eleito do povo — da chefia do governo, incumbida dos interesses imediatos e transitórios da governança, atribuída a um chefe de governo, cabeça de um ministério e necessariamente com o apoio da maioria parlamentar. Assim, o primeiro asseguraria a estabilidade das instituições — seria um poder moderador; o segundo exerceria a governança no seu importante dia a dia, sob o controle do Parlamento. Este poderia afastá-lo se governasse mal ou irregularmente, sem necessidade de impeachment, desde que em seu lugar apoiasse um sucessor, com apoio para servir ao bem comum.
ConJur — O sistema de partidos políticos no Brasil permitiria a adoção do semipresidencialismo?
Ferreira Filho — Os partidos políticos são considerados essenciais para a democracia moderna. Certamente o são como já se entreviu ao tratar da sua influência sobre os sistemas de governo. Duas são as razões principais que justificam, inclusive sua regulação nas Constituições modernas. Uma, de ordem teórica, outra, de ordem prática.
A primeira é que, tendo eles programas de governo, o eleitor ao votar num de seus candidatos está ao mesmo tempo exprimindo a linha que pretende para a governança e que deve ser seguida por aqueles que se elegerem. Estes não serão meros representantes dele eleitor, mas prepostos para a realização de uma determinada linha de governança. Entretanto, a realidade demonstra que não é regra geral que o programa seja observado pelo eleito, seja por mudança da situação, seja em decorrência de uma coalizão para a atuação governamental, seja pela percepção de sua viabilidade (o que é raro). Entretanto, em boa parte do mundo, incluído o Brasil, o programa hoje não exprime ou cria uma ideologia, como ocorreu com o Manifesto Comunista de Marx em 1848. De modo geral, o programa é um agregado de ideias gerais e vagas, que visam agradar à maioria do eleitorado. Nem são mais estabelecidos por pensadores, mas obra de especialistas em manipulação da opinião, no Brasil designados por “marqueteiros”.
A outra razão — a de ordem prática — é a mais importante para a eleição e governança. O partido cria uma agregação de candidatos a diferentes postos que assim trabalham em conjunto e usam em conexão os recursos financeiros para a eleição. E, posteriormente, forma blocos mais ou menos poderosos em relação à governança, seja para a formação do governo, seja para negociações com o governo.
Esse peso é evidentemente maior quando são isoladamente majoritários — aí, sim, podem impor o seu programa. Quando são disciplinados, comandam a governança no parlamentarismo, tendo em mãos o ministério e a maioria parlamentar. Nesse caso, o primeiro-ministro, que comanda o Executivo, também comanda o Legislativo. No presidencialismo, o mesmo ocorre em favor do presidente (como sucedia no Brasil, ao tempo da República Velha). De modo geral, isto somente se dá quando das eleições surge um sistema bipartidário, em que, mesmo havendo mais de dois partidos, apenas dois têm realmente condições de alcançar o poder. É raro, sendo, porém, o que a experiência mostra ocorrer no Reino Unido e nos Estados Unidos. Por meios artificiais, o regime militar o pretendeu estabelecer no Brasil, quando extinguiu os partidos então existentes e "inspirou" a criação de apenas dois.
Mais comum pelo mundo afora é não haver partido isoladamente majoritário, mas diversos partidos, maiores ou menores, que pesam na governança. Nesse caso, o sistema é multipartidário, o que importa, no parlamentarismo, em uma coalizão para exercer o poder; no presidencialismo, em uma base de apoio para o presidente — mesmo que o seu partido tenha o maior número de eleitos —, para que ele tenha uma base de sustentação e assim possa ver aprovadas as leis que pretende para sua atuação governamental.
Ora, a experiência aponta que as coalizões são instáveis e exigem uma constante negociação que sempre tem preço. Tal situação gera instabilidade no parlamentarismo, com as consequências apontadas nas reflexões anteriores. No presidencialismo — dito de coalizão — é este igualmente movediço e exige negociação constante, com custos políticos evidentes.
ConJur — Qual é o impacto dos sistemas eleitorais para os sistemas de partidos? E como isso funciona no Brasil?
Ferreira Filho — Indo mais a fundo, os sistemas de partidos são amoldados, senão gerados, pelos sistemas eleitorais. Conforme assinalou Maurice Duverger, o sistema de votação em turno único em que se elege o mais votado leva naturalmente ao sistema bipartidário. Se há mais de um turno, a necessidade de coalizão para a vitória leva a um sistema multipartidário. Neste, coexistem vários partidos, mas que são impelidos a se associar para o turno decisivo.
Por sua vez, o sistema de representação proporcional, que, como o nome indica, distribui as cadeiras numa câmara em proporção ao número de votos que cada partido obteve, gera infalivelmente uma pluralidade de partidos, que podem ter ou não tendência a se associar. Em geral, não a possuem, pois o mais das vezes surgem novos partidos de cisões dos já existentes. Isso se viu no Brasil sob a Constituição de 1946, com a multiplicação de Partidos trabalhistas e ocorre também sob a Lei Magna em vigor. Veja-se na atualidade a "guerra" entre PT e PDT, e ontem a do PT contra o Psol.
O sistema de representação proporcional tem a virtude de não deixar sem representação correntes ideológicas que, por exemplo, preguem o novo. Mas tem o defeito de aumentar incessantemente o número de novos partidos, com a consequência de fracionar cada vez mais a representação e assim de, mesmo pela negociação, dificultar a base de sustentação sem a qual nenhum governo pode atuar no Estado de Bem-Estar, seja parlamentarista, seja presidencialista. Não é outra a razão por que a Alemanha que adota como sistema eleitoral a representação proporcional (combinada com a eleição distrital majoritária), não confere representação a partido que não haja obtido 5% dos votos.
Tal multiplicação de partidos acaba por resultar na sua "pequenização", o que desvaloriza a sua importância e reduz a nada o valor de seus programas. É o que sucede no Brasil onde, registrados, há cerca de trinta partidos, o maior tendo elegido nas eleições de 2018 cerca de 10% da Câmara dos deputados.
Cientistas políticos assim distinguem dos sistemas pluripartidários, os sistemas polipartidários, que dificultam extremamente a governança e mesmo inviabilizam o parlamentarismo.
É, sem dúvida, polipartidário o sistema atual brasileiro e por essa, entre outras razões, é custoso reunir uma maioria para a aprovação de uma lei e inviável conceber o estabelecimento de um parlamentarismo. Ademais reduz o partido a uma exigência formal pois, permite que o eleito por um passe amanhã para outro, o que nulifica o valor do programa.
Esse polipartidarismo combinado com o financiamento público, não só faz a criação de um partido um bom negócio, como acresce desmesuradamente o custo das eleições e posteriormente o da governança.
ConJur — O presidente Jair Bolsonaro foi alvo de ao menos 145 pedidos de impeachment. Contudo, nenhum foi adiante por decisões dos presidentes da Câmara dos Deputados — Rodrigo Maia (2019 a 2021) e Arthur Lira (de 2021 em diante). A seu ver, seria positivo reduzir a concentração nas mãos do presidente da Câmara da decisão sobre o prosseguimento dos pedidos de impeachment? E que outras mudanças poderiam ser feitas na Lei dos Crimes de Responsabilidade (Lei 1.079/1950)?
Ferreira Filho — Uma das características do presidencialismo é o fato de que o presidente da República tem mandato de duração certa. Disso decorre uma vantagem, qual seja, a estabilidade governamental por um período que permita levar a cabo uma política de governo, ao contrário do que se passa no parlamentarismo, quando o primeiro-ministro pode ser afastado por uma deliberação do Parlamento. Assim, a governança pode sofrer falta da continuidade necessária para ter êxito, ou ser manipulada para manter no poder o chefe do governo e seu ministério.
Na verdade, o presidente da República somente pode ser afastado em caso de crime de responsabilidade por meio do processo sempre designado, em inglês, como impeachment.
O impeachment é um processo formalmente jurídico, de modo que presume crime de responsabilidade previsto em lei e se desenvolve com a observância de todas as garantias constitucionais, como ampla defesa, inquirição de testemunhas, entre outras, o que obviamente o torna lento. Mas ele não se desenvolve perante o Judiciário, e sim perante o Congresso, cabendo ao Senado o julgamento. Isso evidentemente o torna político, eis que um presidente com apoio parlamentar suficiente escapa ileso do processo. É o que tantas vezes se viu na história, mesmo nos Estados Unidos, de onde o Direito brasileiro o importou.
Na verdade, no Brasil nem é preciso esse apoio parlamentar para que o mau governante seja colhido pelo impeachment. Basta que ele conte com o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, porque deste depende o recebimento da renúncia e sem prazo para fazê-lo ou recusá-lo. Disso há exemplos conhecidos.
Rege o processo do impeachment no Brasil a Lei 1.079/1950, que está desatualizada, tanto quanto à definição dos crimes de responsabilidade quanto ao processo. Essa necessidade já foi apercebida, pois funciona no Congresso uma comissão a tratar do assunto. Dela se espera, no mínimo, que se suprima a possibilidade de o presidente da Câmara reter por tempo indeterminado a apreciação da denúncia e que se preveja, caso o indefira in limine, que caiba recurso para o Plenário.
Deve-se ter presente, todavia, que o impeachment sempre tem sequelas políticas graves. Como seu desenvolvimento é tortuoso e envolve manobras dos partidários do mesmo e a inconformidade dos seus adversários, seja de ordem jurídica, seja de ordem partidária, sempre paira sobre ele a pecha de "golpe".
Enquanto, não raro, a denúncia é a seu turno um golpe publicitário, quer de políticos, quer de não políticos que querem ver o nome nos meios de comunicação de massa.
STF profere "frequentes" decisões que não obedecem à Constituição
O ativismo judicial é um fenômeno que se manifesta em todo o Judiciário brasileiro, inclusive no Supremo Tribunal Federal. A Corte profere "numerosas e frequentes" decisões "que não obedecem à Constituição, na letra ou no seu espírito", afirma o advogado e professor emérito de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo Manoel Gonçalves Ferreira Filho.
"O ativismo em matéria constitucional importa, no fundo, em negar a supremacia da Constituição enquanto lei estabelecida pelo poder constituinte e somente sujeita a mudanças — quando o é — por um poder constituinte derivado, com formalidades especiais, algo que não é dado a corte alguma", aponta o jurista.
Entender que o Supremo pode, segundo a sua vontade, dizer o que é a Constituição e não pode ser desobedecido é o mesmo que dizer que a Corte "é o mais poderoso dos poderes", avalia o constitucionalista.
"Pior, que [o STF] detém um poder ilimitado e arbitrário, pois pode dizer o que quer, mesmo contra o texto claro da Constituição, e pode impor a observância do que quiser, sem quaisquer limites. Só o restraint, de que falam os juristas americanos, a deteria, e este é algo que depende de uma cultura que não é a nossa."
Para reduzir o ativismo, Ferreira Filho é favorável a atribuir o controle de constitucionalidade a uma corte especial, composta por julgadores não vitalícios, escolhidos "com ampla participação dos três poderes, e não apenas pelo chefe de um deles [Executivo] e com a aprovação pro forma de uma única das casas do Congresso [Senado]".
Ele também diz ser preciso abolir as decisões monocráticas de ministros do STF ou prever que elas percam a validade se não forem confirmadas pelo Plenário rapidamente. Além disso, o advogado é favorável à eliminação dos pedidos de vista sem prazo de retorno do julgamento.
Em 34 anos, a Constituição Federal de 1988 já foi alterada por 131 emendas, incluídas as seis da revisão de 1994. Tantas mudanças justificam que se questione se a Carta Magna ainda está em vigor — ou se a que vale é outra que se faz passar por ela, destaca.
Ferreira Filho analisa na segunda parte de sua entrevista (clique aqui para ler a primeira) que o Brasil merece uma Constituição melhor, mais ajustada às suas condições socioeconômicas e mais adequada a uma governança eficiente, que impeça as sucessivas crises que dificultam o seu desenvolvimento. Como isso não parece possível no momento, o professor afirma que uma boa medida inicial seria promover uma revisão constitucional, com a reforma do sistema de governo (para o semipresidencialismo), completada pelo sistema de partidos decorrente da mudança do sistema eleitoral.
ConJur — Muitos criticam o ativismo judicial, afirmando que o Judiciário constantemente interfere em políticas públicas, que são de atribuição do Executivo e do Legislativo. Como o senhor avalia o fenômeno?
Ferreira Filho — A convicção de que ocorre no Brasil o fenômeno que se denominou de ativismo judicial é generalizada entre os juristas. Ele se manifesta em decisões em todos os níveis do Judiciário.
Consiste esse ativismo essencialmente na desobediência ao Direito positivo estabelecido pela lei em nome de uma "justiça" concebida de modo subjetivo — e não raro ideológico — pelo judicante. Disfarça-se isso por meio de "interpretações" que muito se afastam do disposto na lei tal qual ela reza ou sempre foi entendida. Ou pela aplicação de "princípios" — também subjetiva e ideologicamente interpretados, que prevaleceriam sobre as normas legais.
Na verdade, esse ativismo resulta na criação de um novo "Direito" — às vezes "achado na rua" — por parte de um poder que deveria fazer cumprir a lei, expressão da vontade geral editada pelo poder competente, obviamente o Legislativo. Esse é um poder que, por força da Constituição, exprime a soberania popular — a democracia — conforme o seu artigo 1º, parágrafo único, o que não é dado ao Judiciário.
Os males que daí decorrem são muitos e evidentes. O primeiro é violar o Estado de Direito, pois importam em pôr de lado o princípio de legalidade, o primeiro dos princípios em que ele se baseia. Gera assim insegurança para os cidadãos, porque quebra a confiança que há de gerar quanto à conduta que devem seguir.
Claro é que tal proceder, além de violar a democracia, fere os princípios básicos em que ela se estrutura, assim como desnatura o Estado de Direito.
Esse ativismo, nas instâncias inferiores do Judiciário, tem significativo impacto, particularmente em relação a leis que dispõem sobre políticas públicas. Estas, mesmo que previstas no texto constitucional, têm aspectos dependentes de questões de conveniência e oportunidade, que têm de ser apreciados segundo o momento e as condições, mormente financeiras, do Estado como um todo. Tudo isto é desconsiderado frequentemente em razão de uma prioridade subjetiva.
ConJur — O STF também pratica ativismo judicial?
Ferreira Filho — O ativismo judicial não se limita às instâncias inferiores, mas transparece em decisões sobre questões constitucionais por parte do próprio guardião da Constituição [o STF]. Pode-se afirmar que numerosas e frequentes são decisões tomadas por ele que, em seu teor, não obedecem à Constituição, na letra ou no seu espírito. São, assim, substantivamente inconstitucionais, porque contrariam a Constituição. Sem dúvida, são elas válidas e de eficácia jurídica, mas tão somente formalmente constitucionais. Isso por terem sido tomadas pelo órgão que tem a última palavra sobre a matéria — o "guardião da Constituição"—, mas isso não as faz substancialmente constitucionais. Hão de ser cumpridas porque a ordem pública o exige, para se evitar o caos e a insegurança no plano jurídico-processual.
O ativismo em matéria constitucional importa, no fundo, em negar a supremacia da Constituição enquanto lei estabelecida pelo poder constituinte e somente sujeita a mudanças — quando o é — por um poder constituinte derivado, com formalidades especiais, algo que não lhe é dado a corte alguma.
Entender que a Corte [STF] pode, a seu talante, dizer o que é a Constituição e não pode ser desobedecido é o mesmo que dizer que ela é o mais poderoso dos poderes. Pior, que detém um poder ilimitado e arbitrário, pois pode dizer o que quer, mesmo contra o texto claro da Constituição, e pode impor a observância do que quiser, sem quaisquer limites. Só o restraint, de que falam os juristas americanos, a deteria, e este é algo que depende de uma cultura que não é a nossa.
Note-se, ademais, que o constituinte de 1988 não admitiu que a Corte sequer suprisse a omissão legislativa. Com efeito, a ação de inconstitucionalidade por omissão, instituída pelo texto de 1988, não admite que o STF senão advirta o poder competente da omissão, e não que faça as vezes de legislador.
Tal ação está "morta" desde que se regulamentou a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ora, como inexiste critério objetivo para distinguir na Constituição o que é preceito fundamental ou o que não o é — e, teoricamente, todos são, porque o constituinte assim entendeu —, a sua acolhida está à mercê do relator sorteado. Este decide o que é fundamental, o que se deduz do fundamental e o que se deduz do fundamental deduzido. E assim ad infinitum. Preceito fundamental é o que o relator quer que seja. Desse modo, tal arguição serve para legitimar a apreciação de tudo.
A situação ainda se torna mais grave porque pode o relator monocraticamente decidir o que é fundamental e pode também regular como bem entende a matéria fundamental em despacho liminar. Este deve ser submetido ao Plenário, mas às vezes isso é esquecido — e por anos e anos. Mas se for para o Plenário um pedido de vista, pode-se também manter em vigor a decisão monocrática liminar por anos e anos.
Não é necessário dar exemplos, porque todo o mundo jurídico o sabe. Basta lembrar que, por liminares — umas aprovadas por espírito de corpo, outras que nunca vieram ao Plenário ou só vieram muito tempo depois de alcançarem o seu objetivo —, já se determinaram atos que importam em violação de direitos fundamentais, como a expressão do pensamento, importando em censura; outras que instituem um poder inquisitorial, determinando inquéritos e outras medidas, até prisões. E — não se esqueça — um despacho monocrático pode suspender ad aeternum a eficácia de uma lei aprovada pelas duas casas do Congresso e sancionada pelo chefe do Executivo. Igualmente não há necessidade de dar exemplos — até leigos o sabem.
ConJur — O senhor já defendeu atribuir o controle de constitucionalidade a uma corte especial, composta por juristas com mandato limitado. Isso ajudaria a conter o ativismo judicial do STF?
Ferreira Filho — Dizem que o controle de constitucionalidade sempre tem um quantum político. Admita-se isso, mas, em decorrência, atribua-se, como se faz na esmagadora maioria dos Estados do mundo, tal controle a uma corte especial — um tribunal constitucional — com julgadores não vitalícios (para que não se crie o espírito de corpo), escolhidos com ampla participação dos três poderes, e não apenas pelo chefe de um deles e com a aprovação pro forma de uma única das casas do Congresso.
E que sejam evidentemente abolidas as decisões monocráticas — ou caduquem elas se não confirmadas pelo Plenário num prazo curto — e se eliminem os pedidos de vista ad aeternum.
ConJur — Na epidemia de Covid-19, o Supremo, diante da omissão do presidente Jair Bolsonaro, assumiu a vanguarda e estabeleceu que estados e municípios poderiam impor medidas sanitárias, proibiu publicidade do governo federal contra o isolamento social e decidiu que a vacinação obrigatória é constitucional. Em um cenário de omissão do Executivo, não cabe ao STF resguardar os direitos fundamentais dos cidadãos?
Ferreira Filho — A questão do combate à Covid é um magnífico exemplo de como a omissão no cumprimento de norma constitucional e de suas decorrências é negativa para a governança e danosa para a população.
A Covid foi — talvez ainda seja — uma calamidade pública, isso ninguém negará. Ela causou centenas de milhares de mortes, outras tantas de doentes, disputas judiciais e políticas, abalou a economia nacional, importou em dispêndio elevado de recursos públicos, em prejuízo da nação brasileira.
No plano jurídico, provocou incontáveis polêmicas; no plano político, incontáveis acusações e críticas contundentes. Tudo isso, do ângulo constitucional, é consequência de uma omissão legislativa, relativa ao cumprimento do prescrito no artigo 21, XVIII, da Constituição. E essa omissão, que ainda persiste, poderia ter sido corrigida pela ação de inconstitucionalidade por omissão, prevista no artigo 103, parágrafo 2º, da Lei Magna vigente.
O artigo 21, XVIII, da Constituição, estabelece que compete à União "planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações". Note-se o "especialmente", que dá um exemplo do planejamento e promoção de toda e qualquer calamidade pública. Está aí a regra geral que, em 34 anos de vigência, não foi editada, nem por projeto do Executivo nem do Legislativo, pois a matéria não é da competência privativa da União. Tal omissão a seu turno poderia ser colmatada por meio de uma ação de inconstitucionalidade por omissão, conforme o disposto no artigo 103, parágrafo 2º, da Carta. Jamais o foi.
A norma citada teria certamente imposto ao Executivo a imediata tomada das medidas já planejadas para o caso de calamidade pública, o que teria acelerado o enfrentamento dessa peste que é a Covid. E teria organizado e coordenado a atuação da União, estados e municípios no exercício da defesa da saúde pública, que é de competência comum a todos esses entes, conforme o artigo 23, II, da Constituição. Dessa maneira, cada ente federativo teria definida a medida de sua participação, evitando superposição e dispersão de esforços, que prejudicaram o combate à calamidade.
Por sua vez, isso teria evitado que a Corte constitucional interviesse de modo inadequado na questão, proibindo (em maiúsculas na decisão, coisa raramente vista num ato judicial) que o poder competente estabelecesse normas gerais para a luta contra o vírus.
Tudo isso demonstra como é daninho para a sociedade ignorar determinação constitucional e fixar arbitrariamente a competência dos entes federativos. É essa a lição jurídica que se pode extrair do combate à calamidade pública que foi a Covid.
ConJur — Em quase 34 anos, a Constituição Federal recebeu 125 emendas. Isso desfigurou seu espírito original? Como avalia a Carta após quase três décadas e meia de sua promulgação?
Ferreira Filho — Certamente o fato de que a Constituição de 1988 já foi alterada por 131 emendas, incluídas as seis da revisão de 1994, num período que ainda não atingiu 34 anos, afora as mudanças informais que tem sofrido, não favorece um julgamento sobre o seu valor como definição da ordem política, econômica e social adequadas e necessárias ao país. E reflete-se isso na fragilidade de sua supremacia, que facilmente é contornada formal ou informalmente.
Uma das razões disso decorre de ser ela detalhista — dirigente no sentido do modelo que Canotilho prescreveu para uma lei magna. Ou seja, uma Constituição que não apenas fixasse sinteticamente as bases fundamentais da ordem política, econômica e social, mas também, antecipando-se à lei, detalhasse as linhas que a governança deveria pôr em prática. Para o mestre português, então militante da extrema esquerda, seria o caminho pacífico para a implantação de uma sociedade socialista, como pretendeu a redação primitiva da Carta portuguesa de 1976. Desse objetivo há no texto de 1988 vários sinais. A ação de inconstitucionalidade por omissão seria o instrumento por excelência para a imposição aos governos dessa "direção".
Outra foi o sistema engendrado para o trabalho constituinte. Em lugar de um anteprojeto, ou mesmo de um projeto, elaborado por meio de uma comissão — uma comissão de "notáveis", que houve, mas cujo trabalho não foi a base dos trabalhos da constituinte. Estabeleceu-se uma divisão da matéria a ser tratada na Constituição entre várias comissões, cujos textos deveriam ser integrados por uma comissão de sistematização, de onde sairia o projeto final. Este seria a base para a discussão no Plenário e a atuação do relator.
E propiciou que grupos de pressão inserissem nele disposições favoráveis às pretensões que defendiam e privilégios, por exemplo, para setores do serviço público.
A ideia parecia boa e democrática, mas resultou, ao final, num texto mal escrito, generoso além dos recursos do Estado, com repetição de disposições, num amálgama de princípios para todos os gostos e ideologias que justificam mudanças informais da própria Constituição
Ora, a aplicação da Constituição assim estabelecida se revelou complexa e difícil, senão impossível. Em razão disso, os sucessivos governos constitucionais se viram obrigados a reclamar modificações no texto por meio de emendas — são eles os proponentes da maioria destas, em grande parte destinadas a ajustar o custo das vantagens concedidas no texto às possibilidades financeiras do Estado. Grande parte das despesas claramente o mostram.
Evidentemente, o desacerto de normas nos planos político, econômico e social foram a razão de ser de muitas outras emendas, afora o seu uso para a concessão de novas vantagens e privilégios a grupos específicos. Afora as exigências do combate à Covid. Essas mudanças formais, somada às informais, justificam a indagação se ainda vigora a Constituição de 1988, ou outra que se faz passar por ela.
Certamente o Brasil mereceria uma Constituição melhor, mais ajustada às suas condições socioeconômicas e mais adequada a uma governança eficiente, que impeça as sucessivas crises que dificultam o seu desenvolvimento para que se torne, realmente, o "país do futuro". Isso não parece ser possível no momento. Uma revisão constitucional, com a reforma do sistema de governo, completada pelo sistema de partidos decorrente da mudança do sistema eleitoral, já seria um grande passo à frente. O primeiro, não o último.
ConJur — Nos últimos tempos, foi retomado o debate sobre o artigo 142 da Constituição e as situações em que as Forças Armadas podem ser usadas para garantia da lei e da ordem. Há quem defenda que os militares podem ser empregados para conter um Poder que esteja extrapolando as suas funções. Outros sustentam que as Forças Armadas não podem se sobrepor a Executivo, Legislativo ou Judiciário. Como o senhor interpreta o dispositivo?
Ferreira Filho — Em tempos tumultuados, o que seria uma disputa jurídico-acadêmica pode se tornar tema de debates políticos. É o que se passa acerca da interpretação do artigo 142 da Constituição, mormente se ele atribui ou não poder moderador às Forças Armadas.
Ora, se, como deve ser feito, se entender poder moderador como um quarto poder, um poder neutro, como o imaginou Constant, e a Constituição do Império consagrou, não existe tal poder no Direito brasileiro. Na verdade — lembre-se —, a sua instituição foi idealizada por Constant como necessária para sanar conflitos entre os três poderes clássicos. Estes devem ser "independentes e harmônicos entre si", mas às vezes entram em grave conflito, possibilidade que a República menosprezou.
Tal poder não é conferido às Forças Armadas pelo texto constitucional vigente nem pode ele ser deduzido da mera afirmação que a elas cabe assegurar, em caso extremos, a "lei e a ordem". Com efeito, embora sejam elas voltadas para o primeiro e indispensável interesse de um povo, ou seja, a existência e sobrevivência do "seu" Estado, no sistema republicano, adotado desde 1891, as Forças Armadas estão integradas no Poder Executivo, cujo chefe é o presidente da República e, como está expresso no artigo 64, XIII, da Lei Magna, também é o seu comandante supremo. Assim, não podem ser um poder neutro em relação aos dois outros. A referida interpretação levaria ao absurdo de que um dos poderes prevaleceria sobre os demais, que não seriam "independentes", como preceitua o artigo 2º da Carta.
Entretanto, do ângulo histórico ou sociológico, podem-se identificar episódios em que as Forças Armadas exerceram um papel — papel, não poder moderador —, permitindo a superação pacífica de acerbas radicalizações políticas que ameaçavam degenerar em graves conflitos, até armados. Fizeram-no — é certo — sem autorização constitucional, mas em intervenções pontuais, sem tomar para si o poder. Feita a intervenção, tornada necessária pelas circunstâncias, o modelo constitucional voltou imediatamente à normalidade. Os exemplos são vários. Em 1955, na crise relativa à posse do presidente eleito, Juscelino Kubitschek; em 1961, na que resultou da renúncia de Jânio Quadros, em face da oposição à posse do vice, João Goulart, são casos típicos.
Entretanto, a mesma história revela que elas, em várias oportunidades, foram agentes revolucionários, dispondo-se a tomar o poder, seja para a transformação do regime ou sua proteção em casos de ameaças graves à sua idoneidade. Seria o caso de 1889, quando substituíram a monarquia pela República e levaram ao poder o marechal Deodoro; em 1964, quando editaram o Ato Institucional de 9 de abril e levaram ao Poder o Marechal Castelo Branco.
Nesses casos, certamente não exerceram o papel de moderador, mas um papel revolucionário — está isso, por exemplo, claro no preâmbulo do Ato Institucional 1, de 9 de abril de 1964, que é uma aula sobre o direito à revolução. E foram assumida e declaradamente o elemento de sustentação do chamado regime militar, o da "revolução", como então se dizia.
Note-se que tal papel revolucionário teve fim, seja em 1889, com a Constituição de 1891, seja o de 1964, com a Constituição de 1967, depois com a emenda constitucional de 1969, para afinal ensejar a Constituição vigente, por meio da Emenda Constitucional 26/1985, dando poderes constituintes ao Congresso Nacional na legislatura a se iniciar em 1987.
Assim, de jure, as Forças Armadas não detêm poder moderador, embora, de facto, em várias oportunidades tenham agido como tal.
É, aliás, pouco sabido que, no governo Geisel, quando se deram os primeiros passos para uma reabertura democrática, discutiu-se a implantação numa futura Constituição de um verdadeiro poder moderador. A ideia não vingou, porque não houve acordo sobre como institucionalizá-lo num sistema presidencialista. Dificuldade que inexiste num regime semipresidencialista, como já se apontou. É sua instituição um dos objetivos deste sistema.
Sérgio Rodas para o Consultor Jurídico, em 09.10.22